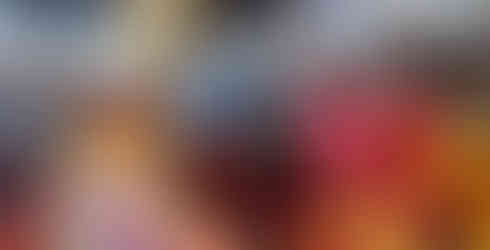“Minha cor chega antes de eu ter a oportunidade de me apresentar”
- Escrito por André Silva | Editor Douglas Cavalcante
- 21 de nov. de 2025
- 5 min de leitura
Atualizado: 27 de nov. de 2025
Conheça a trajetória de força, beleza e dor de mulheres negras da periferia
Na maior favela de São Paulo, Heliópolis, a presença da população negra remonta à própria formação do território na década de 1970, quando o terreno foi utilizado pela prefeitura para alocar “provisoriamente” mais de 150 famílias das favelas da Vila Prudente e da Vergueiro, além de outras vindas de diversas regiões do Brasil, sobretudo do Nordeste. Ao longo dos anos de existência — e de sobrevivência — Heliópolis contrapôs a violência do Estado e a marginalização social das favelas, consolidando-se com base na organização popular em busca de melhorias. Sua história expressa uma luta contínua contra o racismo, ecoada por becos e vielas em reivindicações por educação, saúde, moradia, condições de vida e oportunidades mais justas.
Os pretos e os favelados, como eram chamados com preconceito e ignorância por moradores do entorno, resistiram com esperança e resiliência em um país marcado por políticas racistas e eugenistas. A eugenia, entre tantas práticas excludentes, promoveu a ideia de inferioridade das pessoas negras, associando seus traços físicos, origens culturais e históricas a algo indesejado, o que gerou o distanciamento de elementos identitários e a negação de suas próprias características.
Alexia Borges é uma mulher negra e empreendedora que vive e resiste em Heliópolis. Ela levou muito tempo para se reconectar com sua origem, mas, em 2016, iniciou seu processo de transição capilar, deixando para trás os alisamentos químicos e físicos para assumir a textura natural do cabelo crespo — um gesto de resgate e valorização da identidade racial após séculos de imposição de padrões estéticos que associavam beleza e prestígio à brancura.

“Eu me descobri como pessoa negra, me reconheci e me encontrei”, conta Alexia. “Mesmo dentro de muitas críticas e olhares, eu também tive apoio e admiração das pessoas por estar vivendo e me manter firme… nesse processo eu também construí parte da autoestima que carrego hoje.”
“Eu levei muito tempo pra me reconhecer como uma pessoa negra. Sou de família negra e nordestina, mas eles têm pouquíssima ou quase nenhuma consciência racial, e quando a minha consciência despertou, eu tive uma crise dentro de casa”, explica. O termo eugenia pode ter desaparecido dos discursos oficiais, mas ainda se manifesta em comportamentos cotidianos disfarçados de piadas e comentários “inofensivos”. “Comecei a rebater falas e atitudes que, aos meus olhos, não eram aceitáveis… levou tempo até que, junto comigo, elas [a família] criassem o mínimo possível de consciência. Hoje eu me reconheço como uma mulher negra e forte.”

Isabelly da Silva tem 14 anos e nasceu em Heliópolis, mas passou parte da infância em Petrolina, Pernambuco, ao lado dos pais. Essa vivência entre dois lugares distintos marcou profundamente sua formação e percepção de mundo — embora, para quem carrega a pele negra, pouco mudem as experiências de preconceito. Os olhares desconfiados se repetiam, assim como as atitudes racistas travestidas de piadas e brincadeiras. Ainda jovem, Isabelly compreendeu que o racismo se manifesta de formas sutis, mas profundamente enraizadas no cotidiano.
“Nós somos muito discriminados, a gente tem essa questão de alguns lugares não quererem que a gente esteja, ou, se estivermos, vão tentar sempre nos colocar no lugar de minorias”, relata.
Essas vivências a levaram a refletir sobre o lugar que ocupa e pertence, e a importância de reconhecer-se como uma menina negra em processo de fortalecimento e consciência. A partir dessa percepção, Isabelly buscou, na cultura, na leitura e no diálogo, caminhos para transformar a dor em conhecimento e pertencimento.

"Eu tive essa parte de morar com meus pais, eles não falavam muito sobre isso com a gente, às vezes a gente sofria racismo e só ia saber depois”, lembra. “Essa identidade, esse pertencimento, esse conhecimento de entender que, dentro da sociedade e dentro de mim mesma, eu sou uma mulher negra, surgiu na transição da infância para a adolescência.”
A jornada de Alexia e Isabelly reflete muitas outras trajetórias de pessoas negras, especialmente nas periferias. Suas experiências revelam como a resistência coletiva, forjada nas favelas, se entrelaça com a luta individual pela afirmação da identidade negra, expondo as marcas que o racismo e as políticas discriminatórias deixaram no imaginário social brasileiro.
Esses impactos também atravessam a vida de Patty Souza — gestora de projetos, mãe, avó, mulher de axé, porta-estandarte de um grupo de afoxé e coordenadora do Movimento Negro de Heliópolis e Região. “Minha cor chega antes de eu ter a oportunidade de me apresentar”, afirma, revelando como o racismo estrutural se antecipa e define espaços antes mesmo que ela possa ser vista por inteiro.
Patty sentiu uma dor intensa ao perceber que o racismo não se limitava às ruas, às instituições ou aos olhares estranhos — ele também habitava a família de sua filha. O que deveria ser um espaço de afeto e segurança revelou-se como mais um ambiente atravessado por séculos de pensamentos retrógrados, ao ver a filha ser discriminada pela própria avó paterna. “Eu não tinha noção do que fazer e como ajudá-la”, lembra, diante de uma violência escancarada, mas silenciosa.
O encontro de Patty com o Movimento Negro de Heliópolis surgiu como resposta à necessidade de compreender a origem dessa dor e transformá-la em ação. Nas plenárias do movimento, encontrou acolhimento, conhecimento e força. “Ao começar a participar, percebi que muitas coisas que já havia vivido e sentido na pele e na alma eram racismo e discriminação. Me descobri preta por volta dos 42 anos e me identifico como uma mulher preta retinta há cerca de três anos. O processo foi longo, de entendimento e consciência racial.”
Essa caminhada ampliou sua consciência e a aproximou da ancestralidade. “Não me sinto só”, diz. “Estar à frente nesses espaços me transformou de uma pessoa tímida e com medo da vida em alguém que se reconhece em um processo complexo, dinâmico e multifacetado. Tudo isso só é possível porque tenho construído relações importantes para mim.”
Em Heliópolis, o fortalecimento da população negra nasce tanto das resistências individuais quanto da coletividade. A escuta, o apoio mútuo e a partilha transformam vivências pessoais em luta conjunta. Essa construção coletiva fortalece identidades, amplia vozes e cria caminhos para o reconhecimento e a representatividade.

“Quando atuamos em conjunto, nossas vozes ganham mais alcance, mais força, nossas lutas se fortalecem e nossas experiências individuais se transformam em movimento, nossas experiências quando compartilhadas dão forças aos nossos.” afirma Alexia.
É dentro dessa luta que se compreende que as pautas que envolvem os povos pretos não podem ser restritas a datas simbólicas, como o 13 de Maio ou o 20 de Novembro. A valorização da história, da cultura e da presença negra deve ser constante, pois a resistência é cotidiana — nas escolas, nas ruas, nas favelas, nos espaços de trabalho e em todos os lugares onde há corpos negros existindo e resistindo.

“A discriminação e as desigualdades enfrentadas pela população negra, — como o genocídio da juventude negra, a disparidade salarial, a falta de acesso a espaços de poder, a violência policial e a invisibilidade em diversas áreas — ocorrem todos os dias.” afirma Patty.